
sexta-feira, fevereiro 29
Tarzan em Aveloso
Pelos vestígios arqueológicos encontrados sabe-se que Aveloso já era habitada no Megalítico. Os romanos deixaram nela a ponte de três arcos que atravessa a Ribeira de Teja. Os árabes ocuparam-na no séc. VIII, mas ficaria depois desabitada até à Reconquista, no séc. XII.
Recebeu foral em 1514 e o artístico pelourinho é também dessa data. Aveloso tinha então importância suficiente para nela habitar um bispo, de cuja residência resta uma bonita janela manuelina.
Dois outros edifícios serviram de moradia aos bispos de Lamego: um também do séc. XVI, a que o povo chama “o convento;” o outro, a Casa dos Buchos, data do séc. XVIII. Próximo desta última encontra-se uma casa que tem na parede uma figura antropomórfica, conhecida pela “Cara do Aveloso.”
Dos fins do séc. XIX às primeiras décadas do século passado, Aveloso gozou de fama mundial.
Em 1882 nascia ali Albano de Jesus Beirão, filho de pobres que, por volta dos sete anos, começou a sofrer de estranhos ataques duas vezes ao dia.
Pulava, rebolava, uivava, subia às paredes com agilidade animal, dava saltos enormes, corria como um galgo. Nesses momentos desenvolvia uma força descomunal, o que lhe valeria depois a alcunha de “Homem-Macaco”.
Foi notícia mundial. Edgar Rice Burroughs interessou-se pelo caso, e supõe-se que se tenha inspirado nele para criar a figura de Tarzan no seu romance Tarzan of the Apes (1914).
Nos anos 20 o governo nomeou uma comissão que levou o “Homem-Macaco” pela Europa, para que fosse examinado por sumidades médicas. Contudo, das pesquisas feitas então na Itália, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Espanha, Bélgica e Suíça, nunca foram publicados os resultados.
Cerca de 1932, ao completar 50 anos, os ataques cessaram subitamente, tendo Albano a partir daí levado uma vida sossegada pois, nas suas palavras, “o governo de Lisboa dá-me o que preciso; além disso, vendi a cabeça aos alemães, que a querem estudar.”
Viria a morrer aos noventa e quatro anos no hospital da Guarda em 1976 e, segundo testemunhos, “do caixão selado escorria muito sangue”.
quinta-feira, fevereiro 28
O Paço da Glória em Arcos de Valdevez
A construção do primeiro paço da Glória perde-se no tempo em que os galeões voltavam do Oriente carregados de ouro e pimenta. Do dia para a noite os fidalgos passavam de remediados a nababos, e mandar fazer um paço condigno com as suas novas posses era o menos que se esperava deles.
D. Geraldo Coutinho de Lima, senhor de Cochim - a primeira feitoria europeia da Índia - e proprietário de duas naus, tinha recebido as terras da Glória por doação de D. Manuel I em 1515, começara a casa, mas viria a falecer com ela ainda nas paredes.
O seu primogénito, D. Fernando, seguiu as pegadas do pai. A ele se deve que em Cochim se tenha feito a primeira impresão de livros na Índia. Infelizmente, no dia em que os carpinteiros terminavam o arcabouço do telhado, fulminou-o um ataque, dando corpo à lenda de que daí em diante todos os donos da Glória morreriam sem herdeiros.
Reza a crónica que essa praga lhe fora rogada por um judeu de Cochim, a quem ele tinha enganado num negócio, e que até ao fim do mundo ela cairia sobre todos os que tocassem a propriedade.
O paço e os terrenos passaram então para um D. Afonso, parente afastado. Esse, para escapar ao mau destino, tinha-se dado ao trabalho de, por volta de 1635, viajar para Cochim, na certeza de que lhe não seria difícil encontrar um judeu no meio dos indianos e da meia centena de portugueses que lá haveria. Para sua surpresa, porém, nessa altura já os holandeses tinham conquistado a feitoria, e nela não havia duas ou três famílias judias, mas milhares, a maior comunidade judaica da Índia, formada ali desde o século IV da era cristã.
Percorrendo o labirinto de ruas, seguindo pelos ribeiros e lagoas de Cochim, procurando por entre os templos indianos, as mesquitas e as igrejas, D. Afonso acabou por descobrir a sinagoga. Mas do homem que lhe interessava, nem rasto.
Passado ano e pico voltara para a Europa num galeão holandês, desembarcando em Vlissingen, onde pouco depois viria a falecer do tifo. Sem herdeiros.
Deixadas ao abandono durante anos, as terras da Glória eram um matagal, e do paço inacabado, que fora derruindo aos poucos, restavam as cantarias. Na segunda metade do século 18, a grande praga de míldio que tinha assolado os vinhedos franceses, contribuíra para uma súbita prosperidade das vinhas do Minho, e dessa altura data a construção do paço actual.
Porém, sobre quem o mandou fazer, ou quando, não há documentos. Fala-se de um nobre excêntrico, que por não ter mulher nem parentes, mantinha naquele deserto um grupo de músicos para lhe alegrar as refeições. Fala-se de um pai louco, que encarcerava as filhas num subterrâneo, por temer que elas o desonrassem. Conta-se de um galego, que fugira para ali por ter enriquecido, depois de ter feito com o diabo um pacto que o obrigava a comer gente.
Ao certo nada se sabe, a não ser que a praga do judeu ainda surtia efeito, pois de novo ficaram as terras ao abandono e o solar meio arruinado.
Comprou-o nessa altura um emigrante, que tinha voltado velho e cansado de Manaus, onde enriquecera durante o boom da borracha. Sendo de opinião que, para a sua própria felicidade, ninguém precisa mais do que pão para a boca e uma cama para dormir, o homem mandara levantar só parte do que tinha caído. Para conforto dos seus oitenta anos juntara-se com uma rapariga de dezoito, filha do caseiro.
Como era de esperar, a união não deu fruto. No começo do século XX, o novamente abandonado e meio derruído edifício passou para as mãos do filho de um lavrador abastado de Ponte de Lima. O rapaz, que tinha inclinações românticas, e nenhuma intenção de mourejar no amanho da terra, dedicou-se uns tempos à pintura. Mas pelos jeitos depressa se aborreceu da arte. Em 1907 decidiu partir para Filadélfia, onde o seu charme conquistou o coração de uma viúva. Não uma qualquer, mas a viúva de John Batterson Stetson, o famoso inventor e fabricante do chapéu do mesmo nome, que um ano antes tinha entregue a alma a Deus.
O pintor deve ter efabulado para a viúva sobre o palácio que possuía em Portugal, e a americana provavelmente se entusiasmou, e quis visitar esse domínio exótico. Só que no dia em que apareceram ambos na Glória ela não deve ter gostado do que viu, porque logo anunciou que partia.
O marido insistiu que ficasse, pois o monarca, ao corrente da colossal fortuna herdada do rei dos chapéus, o ia fazer conde. E ela seria condessa, com brasão autêntico, o que na democrática América não era para desprezar.
A ex-viúva concordou, mas mal viu as cartas de nobreza autenticadas, disse que não ficava nem mais um minuto. Ficasse ele. O conde, homem avisado, preferiu acompanhá-la e ambos desapareceram para todo o sempre, sem que se lhe conhecessem herdeiros.
Com mais de trinta anos de abandono os telhados tornaram a desabar. O que restava das paredes foi caindo pouco a pouco. A vinha, as terras de lavoura, a mata de pinheiros, de novo se tornaram um matagal. E como naquele tempo todo não aparecera ninguém a reclamar-se dono da propriedade, ou a pagar as contribuições devidas, em 1935 a Justiça pô-la a leilão.
Pouco depois apareceu em Arcos de Valdevez o lorde William Pitt, que viu a ruína, gostou dela e a comprou.
Também o lorde morreu sem herdeiros. A história que, numa tarde do Verão de 1948, ele próprio me contou, e as que depois se seguiram, embora interessantes, são longas e complicadas em demasia para tratar aqui.
D. Geraldo Coutinho de Lima, senhor de Cochim - a primeira feitoria europeia da Índia - e proprietário de duas naus, tinha recebido as terras da Glória por doação de D. Manuel I em 1515, começara a casa, mas viria a falecer com ela ainda nas paredes.
O seu primogénito, D. Fernando, seguiu as pegadas do pai. A ele se deve que em Cochim se tenha feito a primeira impresão de livros na Índia. Infelizmente, no dia em que os carpinteiros terminavam o arcabouço do telhado, fulminou-o um ataque, dando corpo à lenda de que daí em diante todos os donos da Glória morreriam sem herdeiros.
Reza a crónica que essa praga lhe fora rogada por um judeu de Cochim, a quem ele tinha enganado num negócio, e que até ao fim do mundo ela cairia sobre todos os que tocassem a propriedade.
O paço e os terrenos passaram então para um D. Afonso, parente afastado. Esse, para escapar ao mau destino, tinha-se dado ao trabalho de, por volta de 1635, viajar para Cochim, na certeza de que lhe não seria difícil encontrar um judeu no meio dos indianos e da meia centena de portugueses que lá haveria. Para sua surpresa, porém, nessa altura já os holandeses tinham conquistado a feitoria, e nela não havia duas ou três famílias judias, mas milhares, a maior comunidade judaica da Índia, formada ali desde o século IV da era cristã.
Percorrendo o labirinto de ruas, seguindo pelos ribeiros e lagoas de Cochim, procurando por entre os templos indianos, as mesquitas e as igrejas, D. Afonso acabou por descobrir a sinagoga. Mas do homem que lhe interessava, nem rasto.
Passado ano e pico voltara para a Europa num galeão holandês, desembarcando em Vlissingen, onde pouco depois viria a falecer do tifo. Sem herdeiros.
Deixadas ao abandono durante anos, as terras da Glória eram um matagal, e do paço inacabado, que fora derruindo aos poucos, restavam as cantarias. Na segunda metade do século 18, a grande praga de míldio que tinha assolado os vinhedos franceses, contribuíra para uma súbita prosperidade das vinhas do Minho, e dessa altura data a construção do paço actual.
Porém, sobre quem o mandou fazer, ou quando, não há documentos. Fala-se de um nobre excêntrico, que por não ter mulher nem parentes, mantinha naquele deserto um grupo de músicos para lhe alegrar as refeições. Fala-se de um pai louco, que encarcerava as filhas num subterrâneo, por temer que elas o desonrassem. Conta-se de um galego, que fugira para ali por ter enriquecido, depois de ter feito com o diabo um pacto que o obrigava a comer gente.
Ao certo nada se sabe, a não ser que a praga do judeu ainda surtia efeito, pois de novo ficaram as terras ao abandono e o solar meio arruinado.
Comprou-o nessa altura um emigrante, que tinha voltado velho e cansado de Manaus, onde enriquecera durante o boom da borracha. Sendo de opinião que, para a sua própria felicidade, ninguém precisa mais do que pão para a boca e uma cama para dormir, o homem mandara levantar só parte do que tinha caído. Para conforto dos seus oitenta anos juntara-se com uma rapariga de dezoito, filha do caseiro.
Como era de esperar, a união não deu fruto. No começo do século XX, o novamente abandonado e meio derruído edifício passou para as mãos do filho de um lavrador abastado de Ponte de Lima. O rapaz, que tinha inclinações românticas, e nenhuma intenção de mourejar no amanho da terra, dedicou-se uns tempos à pintura. Mas pelos jeitos depressa se aborreceu da arte. Em 1907 decidiu partir para Filadélfia, onde o seu charme conquistou o coração de uma viúva. Não uma qualquer, mas a viúva de John Batterson Stetson, o famoso inventor e fabricante do chapéu do mesmo nome, que um ano antes tinha entregue a alma a Deus.
O pintor deve ter efabulado para a viúva sobre o palácio que possuía em Portugal, e a americana provavelmente se entusiasmou, e quis visitar esse domínio exótico. Só que no dia em que apareceram ambos na Glória ela não deve ter gostado do que viu, porque logo anunciou que partia.
O marido insistiu que ficasse, pois o monarca, ao corrente da colossal fortuna herdada do rei dos chapéus, o ia fazer conde. E ela seria condessa, com brasão autêntico, o que na democrática América não era para desprezar.
A ex-viúva concordou, mas mal viu as cartas de nobreza autenticadas, disse que não ficava nem mais um minuto. Ficasse ele. O conde, homem avisado, preferiu acompanhá-la e ambos desapareceram para todo o sempre, sem que se lhe conhecessem herdeiros.
Com mais de trinta anos de abandono os telhados tornaram a desabar. O que restava das paredes foi caindo pouco a pouco. A vinha, as terras de lavoura, a mata de pinheiros, de novo se tornaram um matagal. E como naquele tempo todo não aparecera ninguém a reclamar-se dono da propriedade, ou a pagar as contribuições devidas, em 1935 a Justiça pô-la a leilão.
Pouco depois apareceu em Arcos de Valdevez o lorde William Pitt, que viu a ruína, gostou dela e a comprou.
Também o lorde morreu sem herdeiros. A história que, numa tarde do Verão de 1948, ele próprio me contou, e as que depois se seguiram, embora interessantes, são longas e complicadas em demasia para tratar aqui.
quarta-feira, fevereiro 27
terça-feira, fevereiro 26
segunda-feira, fevereiro 25
Camposancos
Camposancos. Vê-se daqui da praia, porque fica do outro lado, defronte de Caminha.
Tempo do meu passado. Quando conhecia a palmo ambas as margens do rio, que ambas tinham sido para mim o cenário das emoções memoráveis da juventude. O primeiro amor de adolescente, a primeira fuga, as travessias do rio nas noites sem lua, que fazíamos pelo gosto do perigo, sabendo que do lado espanhol, e mais por divertimento que por zelo, os homens da Guardia Civil não hesitavam a atirar a sério.
Camposancos. Ainda hoje sou capaz de ir direito à casa de Don Ignacio, o bondoso cura que nos dava maçãs do seu passal - “Se não as dou, vêm-mas roubar!”- e infalivelmente queria saber se tínhamos ido à confissão, se não esquecíamos a comunga.
Recordo também Don Francisco, o padre de Goián, mais novo, magro que nem uma garça, passeando a ler o breviário na estrada onde só de longe a longe aparecia um carro.
Açulados que nem matilha de cães com cio, quando nos cruzávamos víamo-lo fazer no ar um sinal da cruz faceto, talvez tanto para nos abençoar, como em exorcismo às tentações com que o atormentava o Demo, e mais tarde fariam dele um assassino.
A serração de Tabagón. Uma chaminé que se vê de quilómetros ao redor, e para mim era um duplo farol: na grande casa anexa viviam Don Ramón, meu herói, e Rosalia, a irmã mais nova, dezasseis anos como eu, mas infinitamente mais sabida, e que, maldosa, atiçava na minha alma e no meu corpo as grandes labaredas da paixão.
Tempo do meu passado. Quando conhecia a palmo ambas as margens do rio, que ambas tinham sido para mim o cenário das emoções memoráveis da juventude. O primeiro amor de adolescente, a primeira fuga, as travessias do rio nas noites sem lua, que fazíamos pelo gosto do perigo, sabendo que do lado espanhol, e mais por divertimento que por zelo, os homens da Guardia Civil não hesitavam a atirar a sério.
Camposancos. Ainda hoje sou capaz de ir direito à casa de Don Ignacio, o bondoso cura que nos dava maçãs do seu passal - “Se não as dou, vêm-mas roubar!”- e infalivelmente queria saber se tínhamos ido à confissão, se não esquecíamos a comunga.
Recordo também Don Francisco, o padre de Goián, mais novo, magro que nem uma garça, passeando a ler o breviário na estrada onde só de longe a longe aparecia um carro.
Açulados que nem matilha de cães com cio, quando nos cruzávamos víamo-lo fazer no ar um sinal da cruz faceto, talvez tanto para nos abençoar, como em exorcismo às tentações com que o atormentava o Demo, e mais tarde fariam dele um assassino.
A serração de Tabagón. Uma chaminé que se vê de quilómetros ao redor, e para mim era um duplo farol: na grande casa anexa viviam Don Ramón, meu herói, e Rosalia, a irmã mais nova, dezasseis anos como eu, mas infinitamente mais sabida, e que, maldosa, atiçava na minha alma e no meu corpo as grandes labaredas da paixão.
domingo, fevereiro 24
sexta-feira, fevereiro 22
Lanhelas - 1946
À chegada a Lanhelas estranhei a casa. Com os seus dois andares e arrumos, estrebaria, o pomar em volta, a nascente donde a água brotava para um tanque com rãs, pareceu-me demasiado grande para os meus pais e para mim. E soturna, como se encerrasse uma ameaça.
A paisagem de campos e bosques que se via do meu quarto, o rio, as serranias, a nesga de mar ao pé de Santa Tecla, isso de facto seduziu-me. Mas era serenidade demais, beleza demais, um equilíbrio tão perfeito que logo me faltou a desordem e o bulício a que me tinha habituado, quando da minha janela em Gaia olhava para o Porto.
Aqui tudo respirava paz. Em vez da cacofonia citadina os ruídos eram distintos, cada galo esperava o seu momento de poder cantar, o ladrar dos cães espaçado como um diálogo. Na estrada o trânsito era quase nulo. Durante o dia inteiro passavam na linha uns quatro ou cinco comboios, mas o silvo das locomotivas e o matraquear das rodas nos carris ouvia-se de longe, ia crescendo gradualmente, chegava, diminuía, era apenas um traço sonoro a vibrar por instantes na quietude do ar.
Casas a fazer rua só as havia no centro da aldeia. As outras espalhavam-se pela encosta, nos campos próximos da estrada, juntavam-se aqui e além num beco. Por isso, junto da nossa, raro se ouviam sinais de gente, e era surpresa maior quando, chuva ou sol, os ranchos que trabalhavam nas leiras subitamente entoavam em coro as cantigas dolentes da tradição, a alegre harmonia das quatro vozes cobrindo, como um véu, a tristeza e a saudade dos versos que falavam de amores perdidos, de ausências, felicidades nunca sentidas.
É certo que havia o dinheiro do contrabando, mas esse infelizmente não cabia a todos. Para ganhá-lo era preciso mostrar força, ter capacidade de sacrifício, gosto do risco, um traço de crueldade, e indiferenças de carácter que poucos possuíam.
Por isso a aldeia tinha a sua élite de contrabandistas e uma infantaria de carrejões, pescadores-espias, moços de recados. Abaixo desses viviam os jornaleiros do campo, os serventes das pedreiras, os quase pobres de pedir, que levados pela fome iam emigrando em pequenos saltos. Primeiro a pé, para Viana. Meses depois, arranjado um pecúlio e um fatinho decente, de comboio para o Porto. Mais meses, ou anos, de comboio para Lisboa. Até que, poupando migalhas, lhes chegava a hora de comprar passagem no navio e fazer a grande travessia para o desconhecido do Brasil, da América, do Canadá, para onde iam com o credo na boca e um grande medo de que a vida lhes corresse mal.
A paisagem de campos e bosques que se via do meu quarto, o rio, as serranias, a nesga de mar ao pé de Santa Tecla, isso de facto seduziu-me. Mas era serenidade demais, beleza demais, um equilíbrio tão perfeito que logo me faltou a desordem e o bulício a que me tinha habituado, quando da minha janela em Gaia olhava para o Porto.
Aqui tudo respirava paz. Em vez da cacofonia citadina os ruídos eram distintos, cada galo esperava o seu momento de poder cantar, o ladrar dos cães espaçado como um diálogo. Na estrada o trânsito era quase nulo. Durante o dia inteiro passavam na linha uns quatro ou cinco comboios, mas o silvo das locomotivas e o matraquear das rodas nos carris ouvia-se de longe, ia crescendo gradualmente, chegava, diminuía, era apenas um traço sonoro a vibrar por instantes na quietude do ar.
Casas a fazer rua só as havia no centro da aldeia. As outras espalhavam-se pela encosta, nos campos próximos da estrada, juntavam-se aqui e além num beco. Por isso, junto da nossa, raro se ouviam sinais de gente, e era surpresa maior quando, chuva ou sol, os ranchos que trabalhavam nas leiras subitamente entoavam em coro as cantigas dolentes da tradição, a alegre harmonia das quatro vozes cobrindo, como um véu, a tristeza e a saudade dos versos que falavam de amores perdidos, de ausências, felicidades nunca sentidas.
É certo que havia o dinheiro do contrabando, mas esse infelizmente não cabia a todos. Para ganhá-lo era preciso mostrar força, ter capacidade de sacrifício, gosto do risco, um traço de crueldade, e indiferenças de carácter que poucos possuíam.
Por isso a aldeia tinha a sua élite de contrabandistas e uma infantaria de carrejões, pescadores-espias, moços de recados. Abaixo desses viviam os jornaleiros do campo, os serventes das pedreiras, os quase pobres de pedir, que levados pela fome iam emigrando em pequenos saltos. Primeiro a pé, para Viana. Meses depois, arranjado um pecúlio e um fatinho decente, de comboio para o Porto. Mais meses, ou anos, de comboio para Lisboa. Até que, poupando migalhas, lhes chegava a hora de comprar passagem no navio e fazer a grande travessia para o desconhecido do Brasil, da América, do Canadá, para onde iam com o credo na boca e um grande medo de que a vida lhes corresse mal.
quinta-feira, fevereiro 21
O RIJOMAX (2)
quarta-feira, fevereiro 20
Viana do Castelo
Caminho pela cidade com um sentimento de desconforto, pois sem ser nela totalmente um estranho, deixei de lhe pertencer. Sou o passante que deambula pelo cenário da sua juventude e revê com outros olhos os lugares que a marcaram.
Despertando negrumes, surpreso ao dar-me conta de como foram profundas, mas inúteis, as dores de então, passageiras as alegrias, paralisantes aqueles sonhos em que as dimensões do mundo eram constantes e harmoniosas. Terei eu de facto sido assim?
Melancólico, deixo que o passado desfile em cenas que não são de vida vivida, mas painéis desbotados num panorama de artifício.
Não me interessam as ruas, as gentes, as casas, as vibrações do dia soalheiro. Vou ensimesmado, descobrindo que nem a experiência dos anos me ajudará a conciliar as vozes desencontradas que, dentro de mim, ora animam a agir, ora me censuram os actos, as palavras, os desejos. Que me culpam de não ser capaz de, duma vez para sempre, sacudir os entraves da memória. Me acusam de fraqueza, por retornar aos lugares onde sofri, com um impulso tão irreprimível como o que, dizem, leva os assassinos a rever o lugar onde, ao matar, também de certo modo morrem.
Despertando negrumes, surpreso ao dar-me conta de como foram profundas, mas inúteis, as dores de então, passageiras as alegrias, paralisantes aqueles sonhos em que as dimensões do mundo eram constantes e harmoniosas. Terei eu de facto sido assim?
Melancólico, deixo que o passado desfile em cenas que não são de vida vivida, mas painéis desbotados num panorama de artifício.
Não me interessam as ruas, as gentes, as casas, as vibrações do dia soalheiro. Vou ensimesmado, descobrindo que nem a experiência dos anos me ajudará a conciliar as vozes desencontradas que, dentro de mim, ora animam a agir, ora me censuram os actos, as palavras, os desejos. Que me culpam de não ser capaz de, duma vez para sempre, sacudir os entraves da memória. Me acusam de fraqueza, por retornar aos lugares onde sofri, com um impulso tão irreprimível como o que, dizem, leva os assassinos a rever o lugar onde, ao matar, também de certo modo morrem.
terça-feira, fevereiro 19
Remexendo nas gavetas (23)
segunda-feira, fevereiro 18
Remexendo nas gavetas (22)
sábado, fevereiro 16
Ramón María del Valle-Inclán

Eduardo Malta pintou Salazar em 1933 (v. Museu do Caramulo).
Uma tarde do Verão de 1934, num café em Madrid, Joaquim Novais Teixeira (1898-1972), meu amigo e mentor, viu o retrato num jornal e mostrou-o a Valle-Inclán (1866-1936) seu companheiro de tertúlia.
O escritor galego olhou, sorriu, e foi lacónico no comentário: "El Mono Liso".
quinta-feira, fevereiro 14
Vila Nova de Cerveira - o benemérito, o hospital, a Confeitaria Colombo no Rio de Janeiro, Sopo e o ex-abade

 Do Verão de 1946 até fins de 1950 V. N. de Cerveira foi para mim lugar de amores e alegrias, inesquecíveis tardes de remo, festas, saltos clandestinos para Goián e Tabagón. Nesta última havia uma Carmina, por quem corri o risco de me tornar galego.
Do Verão de 1946 até fins de 1950 V. N. de Cerveira foi para mim lugar de amores e alegrias, inesquecíveis tardes de remo, festas, saltos clandestinos para Goián e Tabagón. Nesta última havia uma Carmina, por quem corri o risco de me tornar galego.Depois abalei, Cerveira cresceu, tudo nela são agora artes bienais e modernidades, dos companheiros de então provavelmente não resta um.
No hospital estive uma única vez, de visita a um enfermo. Achei-o excepcional. Não conhecia a história da sua fundação, que encontrei ontem no folheto das festas de 1957.
Ponho-a aqui porque é bonita, e fala de um tempo em que a generosidade ainda era romântica. Bem haja o senhor Lebrão, a família dos (bem donados) Maldonado e o padre Parente, que nesse tempo já era ex-abade do lugar.
(clique para aumentar)
(clique para aumentar)
quarta-feira, fevereiro 13
domingo, fevereiro 10
A Ínsua, na foz do Minho
Nessa altura o senhor Viriato andaria pelos cinquenta, mas comparado com meu pai fazia figura de ancião.
Estatura mediana, encorpado, mãos desmesuradas, vestido de remendos, nas tardes de domingo sentava-se connosco no areal e aceitava um copo de vinho, ou ele próprio ia buscar o garrafão que trazia sempre na masseira, para oferecer uma pinga a quem lhe merecesse simpatia.
Mais amigo de ouvir que de falar, entretinha-se na vistoria dos apetrechos da pesca e, de quando em quando, levantava uns olhinhos de réptil, a mostrar que seguia a conversa.
De repente resmungava frases desconexas e, sem explicação nem despedida, levantava-se, amanhava a rede, pegava nos remos e metia-se no barco de volta à Ínsua.
Eu, que só os ouvia interessado quando falavam de tiroteios e perseguições, subia ao alto da duna a acompanhar o progresso lento do barco. Via-o passar da calma do rio para a ligeira ondulação da foz, acavalar-se depois nas ondas, até que chegava à língua de areia da ilha, onde o mar quebrava.
Seguia-lhe a manobra, via o senhor Viriato curvado no esforço de puxar o barco para seco, retirar a rede, estendê-la entre os remos, encaminhar-se lentamente para o forte, e desaparecer na muralha. Como um pirata, imaginava eu.
Em rapaz tinha andado embarcado. Conhecera o Brasil, a América, a costa de África, os ciclones, os trabalhos do Cabo Horn. Um dia em que eu o fora ajudar na apanha dos mexilhões nos penedos, pusera-se a contar as suas aventuras, como que tomado por um irresistível desejo de confissão. Entremeando longos silêncios que me faziam sentir culpado, porque talvez lhe não prestasse atenção bastante, ou a minha pouca idade me não permitisse avaliar tanta confidência. De súbito, num dos seus repentes, tinha-se virado para o mar e, estendendo o braço, assegurou-me que quem fosse capaz de seguir por ali fora, como por uma corda esticada, chegava a Boston.
Eu próprio chegaria a Boston anos mais tarde, por vias bem travessas. Em Nantasket Beach, num momento de euforia, iria surpreender-me a recordar a corda mítica com que o senhor Viriato unira a América ao forte da Ínsua.
Sentado na areia fitando o oriente, voei como num sonho para as paisagens e os rostos da minha adolescência. A reviver as alegrias, os entusiasmos, os amores, como se tudo fosse intemporal e infindo, meu para sempre.
Só depois me viria a dar conta que, nessa altura, eu desconhecia o verdadeiro peso da nostalgia. Quando evocava recordações, não precisava como agora de ir buscá-las a um passado longínquo, cheio de perdas irremediáveis, porque todas elas se achavam confortavelmente próximas.
Então, o avivá-las, ainda não era dor, apenas distração do pensamento.
Estatura mediana, encorpado, mãos desmesuradas, vestido de remendos, nas tardes de domingo sentava-se connosco no areal e aceitava um copo de vinho, ou ele próprio ia buscar o garrafão que trazia sempre na masseira, para oferecer uma pinga a quem lhe merecesse simpatia.
Mais amigo de ouvir que de falar, entretinha-se na vistoria dos apetrechos da pesca e, de quando em quando, levantava uns olhinhos de réptil, a mostrar que seguia a conversa.
De repente resmungava frases desconexas e, sem explicação nem despedida, levantava-se, amanhava a rede, pegava nos remos e metia-se no barco de volta à Ínsua.
Eu, que só os ouvia interessado quando falavam de tiroteios e perseguições, subia ao alto da duna a acompanhar o progresso lento do barco. Via-o passar da calma do rio para a ligeira ondulação da foz, acavalar-se depois nas ondas, até que chegava à língua de areia da ilha, onde o mar quebrava.
Seguia-lhe a manobra, via o senhor Viriato curvado no esforço de puxar o barco para seco, retirar a rede, estendê-la entre os remos, encaminhar-se lentamente para o forte, e desaparecer na muralha. Como um pirata, imaginava eu.
Em rapaz tinha andado embarcado. Conhecera o Brasil, a América, a costa de África, os ciclones, os trabalhos do Cabo Horn. Um dia em que eu o fora ajudar na apanha dos mexilhões nos penedos, pusera-se a contar as suas aventuras, como que tomado por um irresistível desejo de confissão. Entremeando longos silêncios que me faziam sentir culpado, porque talvez lhe não prestasse atenção bastante, ou a minha pouca idade me não permitisse avaliar tanta confidência. De súbito, num dos seus repentes, tinha-se virado para o mar e, estendendo o braço, assegurou-me que quem fosse capaz de seguir por ali fora, como por uma corda esticada, chegava a Boston.
Eu próprio chegaria a Boston anos mais tarde, por vias bem travessas. Em Nantasket Beach, num momento de euforia, iria surpreender-me a recordar a corda mítica com que o senhor Viriato unira a América ao forte da Ínsua.
Sentado na areia fitando o oriente, voei como num sonho para as paisagens e os rostos da minha adolescência. A reviver as alegrias, os entusiasmos, os amores, como se tudo fosse intemporal e infindo, meu para sempre.
Só depois me viria a dar conta que, nessa altura, eu desconhecia o verdadeiro peso da nostalgia. Quando evocava recordações, não precisava como agora de ir buscá-las a um passado longínquo, cheio de perdas irremediáveis, porque todas elas se achavam confortavelmente próximas.
Então, o avivá-las, ainda não era dor, apenas distração do pensamento.
sábado, fevereiro 9
sexta-feira, fevereiro 8
quinta-feira, fevereiro 7
quarta-feira, fevereiro 6
Boris, o urso e a "jangada"
As palavras nem sempre bastam para retratar um personagem. No caso de Boris seria preciso juntar-lhes o olfacto e aquele poder de raios-X com que, por vezes, descobrimos em alguém uma essência que, outrossim, se mostra refractária a ser descrita ou definida.
Filho duma russa e dum comunista basco, que por voltas de 1937 se tinha exilado na União Soviética, Boris nasceu em Leninegrado. São Petersburgo, bem sei, mas ele próprio continua a chamar-lhe assim.
No tempo em que travámos conhecimento, havia anos que desertara do navio onde andava embarcado, e possuía em Rotterdam um café, um próspero negócio de máquinas de diversão, e uma rede de relações tão vasta que, no seu dizer, lhe permitia tratar de tudo e com todos, do mais baixo ao mais distinto. Fora isso tinha ganho nome como boxeur, era agradável no trato e diziam-no correcto em questões de contas.
A razão do persistente cheiro a fera que o rodeava, só mais tarde e por acaso, a viria eu a descobrir. Mas a essência do seu carácter - indescritível, indefinível - essa revelava-se sobretudo no primeiro encontro, ao ver-se surgir aquela cabeça de gigante e tronco conforme, apoiados sobre pernas curtas e cambadas. Olhos de azeviche, irrequietos. Bigode mexicano, de pontas pendentes, que lhe dava um ar de falsa bonomia. Um sorriso de que não era fácil discernir a qualidade, pois tanto poderia ser troça, como estupidez ou ameaça. Em geral era ameaça.
Cada vez que me acontecia ir a Rotterdam, criei o hábito de o visitar, fascinado pela extraordinária amálgama de negócios que o ocupavam, entre os quais as máquinas de diversão pareciam ser uma parte diminuta que ocupava dois aprendizes numa garagem. O resto era como nos romances: duma casinhola de madeira no terreno das traseiras da casa, Boris traficava, manipulava, arranjava, alugava, vendia, ria às gargalhadas dos 'anjinhos' que havia no mundo - entre os quais também de bom gosto se incluía - telefonava, gritava com a mulher, e bebia litros de chá. Sem anúncio nem cortesias de despedida, também era capaz de num repente saltar para a carrinha e desaparecer por dias ou semanas.
O seu fraco eram os animais. Mas nada de cães, gatos ou bicharada miúda. Só o contentavam os grandes e por isso, no anexo que ligava a casa à garagem, tinha construído um verdadeiro jardim zoológico clandestino com jaulas em que eu, com suspresa e alguma preocupação, um dia descobri um leão de meio ano, uma hiena, uma onça, jibóias, macacos vários.
À solta, preso a uma corrente que qualquer criança quebraria, deambulava o seu favorito, um urso castanho que, da primeira vez que o descobri agachado a um canto, quase me matou de susto, porque a minha miopia o confundira com um inofensivo monte de trapos.
Falando-lhe russo, abraçado a ele a ensaiar passos de dança cada vez que entrava no anexo, Boris espalhava um forte odor a urso, que só com o tempo e muita simpatia era possível aceitar.
Fora os animais tinha ainda outra paixão: o equipamento militar. As armas com certeza as guardava em segredo nalgum armazém, porque nunca lhas vi, mas os recantos e dependências da casa eram um verdadeiro empório de tendas, de cantis, mochilas, botas e barretes, uniformes, cinturões, emissores de rádio, telefones de campanha, pás e picaretas, antenas, holofotes...
Dando gargalhadas, Boris gostava de repetir a estória de como a sua mania de acumular coisas militares quase tinha resultado em desastre para a família.
Na sala, único lugar onde o tropeço cabia, e à espera de mais tarde lhe dar destino, tinha ele arrumado a enorme embalagem de um salva-vidas de borracha, relíquia proveniente de um destroyer britânico da Segunda Guerra Mundial, e o qual, segundo as inscrições laterais, podia acomodar doze pessoas. Outra inscrição, sob a palavra CAUTION! pintada a vermelho, indicava que, puxando a corda, a embarcação se inflaria dentro de trinta segundos.
Com o correr dos anos a “jangada”, como ele lhe chamava, passara a fazer parte da mobília e, quando alguém curioso como eu perguntava o que era aquilo, Boris parecia ter dificuldade em recordar a utilidade do trambolho. Até ao dia em que uma festa de aniversário lhe tinha enchido a sala com familiares.
A certa altura, esvaziadas muitas garrafas de vodka, alguém tivera a má ideia de afirmar que, puxando a corda, não aconteceria nada. Depois de tantos anos o gás há muito que tinha escapado. Ai não? Queriam apostar? Era só trinta e um de boca?
Uns contra, outros a favor, o dinheiro começou amontoar-se sobre a mesa. Quando mais ninguém quis apostar, Boris levantou-se, deu um esticão à corda. E aconteceu!
O barco começou a inchar com extraordinária força, quebrando a mobília, as vidraças, a loiça, semeando pânico, sufocando as pessoas que, aos gritos, se arrastavam pelo soalho à procura da porta. Até que Boris, encontrando uma navalha, a espetou várias vezes no revestimento de borracha, com a fúria de quem se defende dum monstro vivo.
Ao contar a cena não parava de rir, lembrando o embaraço do cunhado que, por ter borrado as calças, recusava levantar-se do chão.
Filho duma russa e dum comunista basco, que por voltas de 1937 se tinha exilado na União Soviética, Boris nasceu em Leninegrado. São Petersburgo, bem sei, mas ele próprio continua a chamar-lhe assim.
No tempo em que travámos conhecimento, havia anos que desertara do navio onde andava embarcado, e possuía em Rotterdam um café, um próspero negócio de máquinas de diversão, e uma rede de relações tão vasta que, no seu dizer, lhe permitia tratar de tudo e com todos, do mais baixo ao mais distinto. Fora isso tinha ganho nome como boxeur, era agradável no trato e diziam-no correcto em questões de contas.
A razão do persistente cheiro a fera que o rodeava, só mais tarde e por acaso, a viria eu a descobrir. Mas a essência do seu carácter - indescritível, indefinível - essa revelava-se sobretudo no primeiro encontro, ao ver-se surgir aquela cabeça de gigante e tronco conforme, apoiados sobre pernas curtas e cambadas. Olhos de azeviche, irrequietos. Bigode mexicano, de pontas pendentes, que lhe dava um ar de falsa bonomia. Um sorriso de que não era fácil discernir a qualidade, pois tanto poderia ser troça, como estupidez ou ameaça. Em geral era ameaça.
Cada vez que me acontecia ir a Rotterdam, criei o hábito de o visitar, fascinado pela extraordinária amálgama de negócios que o ocupavam, entre os quais as máquinas de diversão pareciam ser uma parte diminuta que ocupava dois aprendizes numa garagem. O resto era como nos romances: duma casinhola de madeira no terreno das traseiras da casa, Boris traficava, manipulava, arranjava, alugava, vendia, ria às gargalhadas dos 'anjinhos' que havia no mundo - entre os quais também de bom gosto se incluía - telefonava, gritava com a mulher, e bebia litros de chá. Sem anúncio nem cortesias de despedida, também era capaz de num repente saltar para a carrinha e desaparecer por dias ou semanas.
O seu fraco eram os animais. Mas nada de cães, gatos ou bicharada miúda. Só o contentavam os grandes e por isso, no anexo que ligava a casa à garagem, tinha construído um verdadeiro jardim zoológico clandestino com jaulas em que eu, com suspresa e alguma preocupação, um dia descobri um leão de meio ano, uma hiena, uma onça, jibóias, macacos vários.
À solta, preso a uma corrente que qualquer criança quebraria, deambulava o seu favorito, um urso castanho que, da primeira vez que o descobri agachado a um canto, quase me matou de susto, porque a minha miopia o confundira com um inofensivo monte de trapos.
Falando-lhe russo, abraçado a ele a ensaiar passos de dança cada vez que entrava no anexo, Boris espalhava um forte odor a urso, que só com o tempo e muita simpatia era possível aceitar.
Fora os animais tinha ainda outra paixão: o equipamento militar. As armas com certeza as guardava em segredo nalgum armazém, porque nunca lhas vi, mas os recantos e dependências da casa eram um verdadeiro empório de tendas, de cantis, mochilas, botas e barretes, uniformes, cinturões, emissores de rádio, telefones de campanha, pás e picaretas, antenas, holofotes...
Dando gargalhadas, Boris gostava de repetir a estória de como a sua mania de acumular coisas militares quase tinha resultado em desastre para a família.
Na sala, único lugar onde o tropeço cabia, e à espera de mais tarde lhe dar destino, tinha ele arrumado a enorme embalagem de um salva-vidas de borracha, relíquia proveniente de um destroyer britânico da Segunda Guerra Mundial, e o qual, segundo as inscrições laterais, podia acomodar doze pessoas. Outra inscrição, sob a palavra CAUTION! pintada a vermelho, indicava que, puxando a corda, a embarcação se inflaria dentro de trinta segundos.
Com o correr dos anos a “jangada”, como ele lhe chamava, passara a fazer parte da mobília e, quando alguém curioso como eu perguntava o que era aquilo, Boris parecia ter dificuldade em recordar a utilidade do trambolho. Até ao dia em que uma festa de aniversário lhe tinha enchido a sala com familiares.
A certa altura, esvaziadas muitas garrafas de vodka, alguém tivera a má ideia de afirmar que, puxando a corda, não aconteceria nada. Depois de tantos anos o gás há muito que tinha escapado. Ai não? Queriam apostar? Era só trinta e um de boca?
Uns contra, outros a favor, o dinheiro começou amontoar-se sobre a mesa. Quando mais ninguém quis apostar, Boris levantou-se, deu um esticão à corda. E aconteceu!
O barco começou a inchar com extraordinária força, quebrando a mobília, as vidraças, a loiça, semeando pânico, sufocando as pessoas que, aos gritos, se arrastavam pelo soalho à procura da porta. Até que Boris, encontrando uma navalha, a espetou várias vezes no revestimento de borracha, com a fúria de quem se defende dum monstro vivo.
Ao contar a cena não parava de rir, lembrando o embaraço do cunhado que, por ter borrado as calças, recusava levantar-se do chão.
terça-feira, fevereiro 5
domingo, fevereiro 3
sábado, fevereiro 2
O mar
Escondido no fundo do meu ser de montanhês há-de haver uma costela marinheira, herdada de algum remoto avô navegante que não deixou história, pois tanto quanto sei, nos dois últimos séculos a minha gente foi de vinhas, de rebanhos, searas e olivais.
Poucos deles terão visto o mar. Os que conheci iam na festa de Santo Antão em Agosto pescar ao Sabor, rio que só no Inverno merece esse nome, mas que os banzava por lhes parecer caudaloso, e do qual garantiam que a corrente tinha mais força que dez juntas de bois.
Compreende-se. Não conheciam força maior e, em todo o imenso ermo de montes e de vales em que mourejavam, havia apenas duas nascentes donde corriam, correm ainda, uns riachos de nada. Fios de água tão estreitos que de menino, sem tomar lanço, eu os atravessava dum salto.
Na sua imensidão o mar sempre me assustou, como os barcos sempre me enfeitiçaram. Comecei por fazê-los de papel. Mal pude segurar um canivete fi-los de cortiça, de casca de pinho, perfeitos, com mastros e velas, leme, tripulação. Construí-os depois de madeira, com quilha, cavername, porões, convés, paus-de-carga, um com caldeira de vapor e chaminé a fumegar. Infelizmente, porque me faltava ciência, esses adernavam em vez de navegar, e por fim cansei-me da minha inépcia. Mas o fascínio permaneceu. Forte. A ponto de por duas ou três vezes me ter posto a vida em perigo.
Poucos deles terão visto o mar. Os que conheci iam na festa de Santo Antão em Agosto pescar ao Sabor, rio que só no Inverno merece esse nome, mas que os banzava por lhes parecer caudaloso, e do qual garantiam que a corrente tinha mais força que dez juntas de bois.
Compreende-se. Não conheciam força maior e, em todo o imenso ermo de montes e de vales em que mourejavam, havia apenas duas nascentes donde corriam, correm ainda, uns riachos de nada. Fios de água tão estreitos que de menino, sem tomar lanço, eu os atravessava dum salto.
Na sua imensidão o mar sempre me assustou, como os barcos sempre me enfeitiçaram. Comecei por fazê-los de papel. Mal pude segurar um canivete fi-los de cortiça, de casca de pinho, perfeitos, com mastros e velas, leme, tripulação. Construí-os depois de madeira, com quilha, cavername, porões, convés, paus-de-carga, um com caldeira de vapor e chaminé a fumegar. Infelizmente, porque me faltava ciência, esses adernavam em vez de navegar, e por fim cansei-me da minha inépcia. Mas o fascínio permaneceu. Forte. A ponto de por duas ou três vezes me ter posto a vida em perigo.
sexta-feira, fevereiro 1
Catulo da Paixão Cearense (1863-1946)
 Tira-se da estante um livro esquecido. Sorri a gente, recordando a emoção com que descobriu a sua poesia nos anos da juventude. E um pensamento que se anotou: “Meu Deus!... Porque não fizeste os homens irracionais?...” Aprender que flor também se pode escrever “frô”, senhora passa a sinhá, e acaba em “sá”.
Tira-se da estante um livro esquecido. Sorri a gente, recordando a emoção com que descobriu a sua poesia nos anos da juventude. E um pensamento que se anotou: “Meu Deus!... Porque não fizeste os homens irracionais?...” Aprender que flor também se pode escrever “frô”, senhora passa a sinhá, e acaba em “sá”.“Sá Dona, os cabelos dela
tão preto prô chão caía
que toda frô que butava
nus cabelo, a frô murchava
pensando que anoitecia”.
(Meu Sertão - Catulo da Paixão Cearense, Rio de Janeiro, 1918)
Subscrever:
Comentários (Atom)



















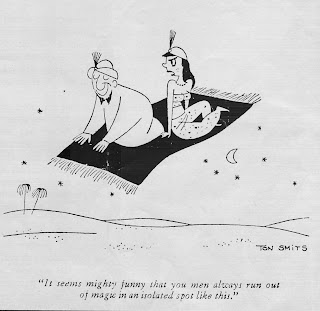
.jpg)



